De mãe para mãe
Então, sou mãe. Como provavelmente você que me lê também. Por me tornar mãe, decidi apoiar outras mães. Escrevo e falo sobre como tornar a relação com os filhos mais sustentável, como preservar o autocuidado nesta relação, a importância da rede de apoio e tudo o mais.
Aí, num dia destes, fui lá, participar de uma roda de conversa com quem? Com mães, claro. Fui como participante, porque amo estar entre mulheres e ouvir falar as mulheres que eu admiro. E também porque, assim como terapeutas também precisam fazer terapia (senão seria incoerente, né?), sei que estar em rodas facilitadas por outras mulheres também vão nutrir a mim e ao meu trabalho junto às mães.
Pois bem, a roda era de noite e eu decidi ir com meu filho, já que as principais pessoas da minha rede de apoio ou estavam trabalhando ou também estariam naquela roda.
Fomos, Gael e eu. E ele, claro, agiu como a criança de quase três anos que é: pegou brinquedos de outras crianças, correu pela sala, mamou, falou mais alto do que a facilitadora, chorou, brincou mais, subiu na janela, pediu pão, derrubou no chão…
Enfim, alguém já passou por isso? Pois é. Imagino que todas vocês, mães que me lêem. E eu, fazendo o meu melhor para equilibrar a atenção que dispensava a ele e a atenção que eu queria dar ao que estava sendo dito pelas mulheres – de repente, me percebo com certo incômodo. Estava aparentemente tudo bem, mas de repente, surgiu este incômodo. Um incômodo vindo de um lugar em mim que foi levado a acreditar que crianças incomodam. Um incômodo validado por todos estes lugares em que crianças não são bem-vindas. Um incômodo embasado por toda uma sociedade que prega que as mães é que são as (únicas) responsáveis pelos filhos e “tem que dar conta” deles. Um incômodo que vem lá de um lugar na própria infância em que eu, criança, tinha que ficar quieta para não atrapalhar. Um incômodo de muitos anos, de muitos séculos, de milênios de opressão do patriarcado.
E, por alguns momentos mergulhada nesta memória dolorosa do inconsciente coletivo, me deixei levar pela ideia de que eu estava atrapalhando, que meu filho estava incomodando, que talvez fosse melhor ir embora cuidar dele em casa, porque afinal, que mãe era eu que estava com a criança na rua uma hora daquelas?!
Claro que estes últimos pensamentos estavam sendo (também) reprimidos, porque afinal eu era uma mãe que apoia outras mães, que acredita que mães e crianças devem ser acolhidas onde quiserem ir, que incentiva outras mães a ocuparem seus lugares no mundo. Eu não queria me permitir pensar este tipo de coisa, tão avesso ao que desejo para mim e para todas as mães.
Então, entre a criança ferida que tinha que ficar quieta e a mulher de hoje com mais de 40 anos, que pariu em casa aos 38, que ainda amamenta, que faz sua parte para apoiar outras mães para que também elas possam fazer suas próprias escolhas de forma consciente e informada – eu, me percebi caindo na armadilha contra a qual tenho lutado.
Aí, veio a luz. Eu estava em meio a mulheres, mães como eu, algumas com filhos menores que o meu, outros maiores e ainda mais participativos. Eu estava entre irmãs. E a palavra sororidade estava ali, não dita mas vivida, pulsante, amorosa, cheia de ocitocina. Não havia, de fato, olhares repressores. O único repressor ali era o meu próprio juiz interno, que foi introjetado em mim desde a infância e alimentado pela sociedade patriarcal em que, infelizmente, ainda vivemos. Quando percebi a presença dele (que julgava estar extinta, mas vejam: é preciso estar atenta às sutilezas de um subconsciente forjado no machismo dominante) e quando olhei ao redor e vi aquelas mulheres lindas, a voz dele foi perdendo força e a minha voz verdadeira falou mais alto: eu me aceito e aceito meu filho como somos. E continuei a apoiar o Gael em suas subidas à janela e a segurá-lo a cada vez em que ele, confiante, saltava em meus braços.
No café, uma das mulheres, com um bebê ainda de colo, me fala: “Seu filho é tão livre, né? É tão raro ver crianças assim. As pessoas reprimem tanto”.
Sim, amiga, fomos tão reprimidas e reprimimos ainda tanto! Há tanto do que se libertar! Vamos juntas!
Não disse isso, apenas sorri e tentei acolhê-la com meu sorriso. Porque as reflexões vem com mais força depois, né? E eu ainda estava na ebulição de meus pensamentos contraditórios.
No final, grupinhos de mulheres conversando, rindo, chorando, uma outra me diz: “Onde você corta seu cabelo? Fiquei admirando seu cabelo curto e ondulado! Passa o contato pra mim?”
Ah, as mulheres, como não amá-las? Quem tentou nos convencer de que somos inimigas sabia muito bem o que estava fazendo: mulheres juntas mobilizam uma potência capaz de transformar o mundo!
Na saída, e para consolidar meu amor por todas as mulheres, uma delas me diz assim: “Que linda a maneira de você se relacionar com seu filho! Tanto respeito por ele e pela sua autonomia!”
Eu ri. De amor. De pura ocitocina. E de mim mesma.
Receber aquela frase foi o feedback que eu necessitava depois de tudo o que tinha se passado em mim enquanto estava me equilibrando na corda bamba da maternidade. Aquela frase, de uma mulher como eu, de uma mãe como eu, de uma irmã, me trouxe a paz que eu precisava para retomar a confiança: estou no caminho certo, porque é o caminho que eu escolhi e que tenho trilhado com amor, vulnerabilidade e persistência.

Estar entre mulheres é muito potente! (Foto: Isabella Isolani, do encontro “Conversa entre Mulheres”, com Lígia Sena)
Estar entre mulheres me re-humaniza. Ser mãe me re-humaniza, diante da fragilidade e da força da vida cotidiana. Quando nos damos permissão para ser a mãe que desejamos, quando apoiamos outras mães – e se alguém aí não sabe como apoiá-las, apenas não as julguem – quando nos permitimos olhar umas para as outras como iguais, como irmãs, reativamos nossa potência.
Mães do mundo: uni-vos! Encontrem-se com suas amigas. Reúnam-se com desconhecidas para conversar e descobrir outras realidades. Apoiem-se umas às outras.
Porque para mudar o mundo (e isso é urgente), é preciso mudar a maneira como tratamos as mães. E como nos tratamos enquanto mães. Desde a gestação e até muito depois do fim do puerpério. Porque quando as mães são acolhidas, amadas, tratadas com dignidade e respeito verdadeiro, têm mais condições (em termos de saúde mental e emocional mesmo) de criar e cuidar das crianças e de si mesmas. Porque, sim, o autocuidado é fundamental, mas junto a isso é preciso cultivar um cuidado coletivo, uma corresponsabilização pela co-criação de uma sociedade mais humanizada.
Eu trabalho com mães, pelas mães e a partir do meu lugar de mãe. Nesta caminhada junto às mães, e por ser eu mesma mãe, tenho redescoberto a minha potência, aceitado minha própria humanidade, celebrado a força de minha vulnerabilidade e o valor da sororidade.
E desejo que você também redescubra.
Vamos juntas!
Todos os textos da sessão “Escrito à Mãe” do site cultivandocuidado.com bem como os textos do perfil no Instagram @cultivandocuidado são de autoria de Maristela Lima. Se estas reflexões fazem sentido para você, talvez elas sirvam também para suas amigas mães. Compartilhe com elas o link deste artigo e sempre cite a autoria. Assim, você valoriza o trabalho de uma mãe que escreve e apoia este trabalho, contribuindo para que mais mulheres se beneficiem e me motivando para que eu continue a oferecer às mães conteúdos importantes, gratuitos e de qualidade.
Entre mães, precisamos no apoiar.
Com amor e gratidão,
Maris.
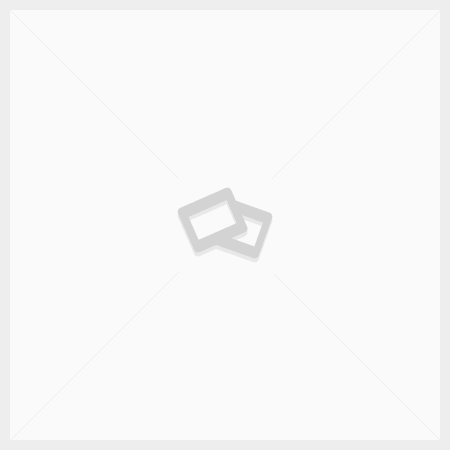


 Falar com Cultivando Cuidado <3
Falar com Cultivando Cuidado <3